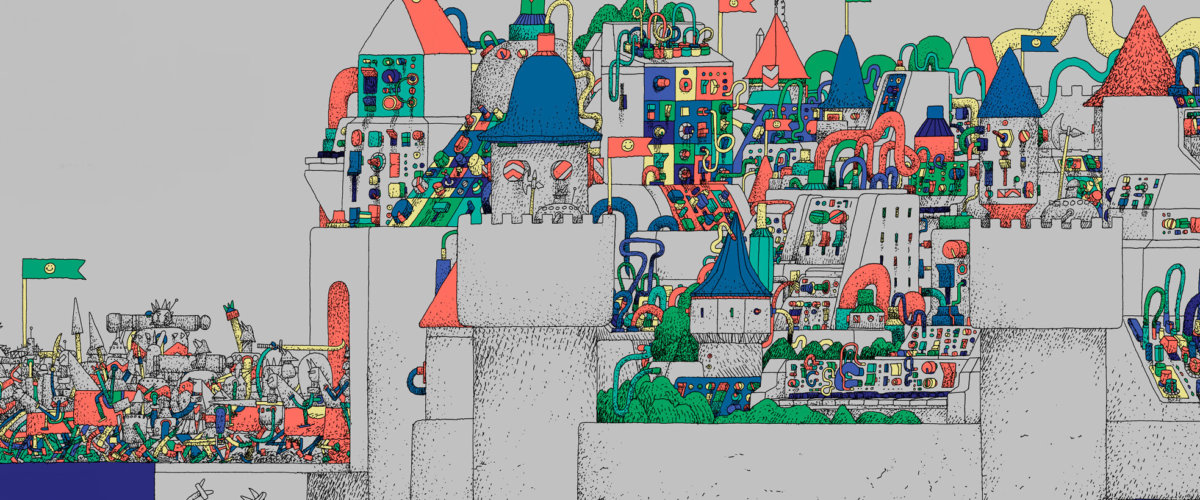São Paulo, século XXI.
Depois de algum tempo sem pegar o metrô devido à pandemia, me armo de álcool em gel, máscara nova e sigo sentido Pinheiros para mostrar a uns amigos mineiros de visita à cidade uma região pouco afetada pelo caos se comparada ao centro.
Há tempos as pessoas vêm relacionando cidades inteligentes à tecnologia, e tecnologia ao futuro. Não foi surpresa me deparar com um guichê com pessoas vendendo passagem como sempre, mas a falta de fila em um dos principais entroncamentos de linhas de SP me fez prestar atenção no entorno do tal guichê.
Num verniz de “modernidade” digno dos países ditos desenvolvidos, percebo várias máquinas de autosserviço de venda de bilhetes. Rapidamente, penso que finalmente atualizaram o sistema de venda, que há tempos já pode ser feito com cartão de débito via bilhete único, a versão paulistana do Oyster Card londrino, agora também possível sem o tal cartão, ou seja, com bilhetes avulsos.
Tento a primeira máquina – o modelo tradicional –, mas o primeiro desafio é achar uma funcionando. Acho, mas sem sucesso, meu cartão era “antigo”, meio frustrado e me sentindo tão antigo quanto meu bilhete único, pensei, tudo bem, vamos para tal modernidade do QRcode. Mais uma vez, começo a busca por uma máquina em funcionamento. Com um touch screen digno de lutadores de MMA, finalmente consegui comprar o tal ticket, dois de cada vez porque não existia a possibilidade de comprá-los em maior quantidade.
Todo esse processo durou muito mais do que o mesmo processo que percorri em uma máquina semelhante na China, em um país que eu não conhecia e com uma língua que domino tanto quanto o aramaico; até porque na máquina chinesa, diferente da paulistana, existia a opção de usar um idioma mais amigável ao estrangeiro. Fiquei então pensando sobre quanto a tecnologia de fato nos levará para o futuro.
Evidente que a tecnologia é uma realidade, uma conquista indiscutível e indissociável, mas a cidade do futuro vai muito além disso. Ao que me parece, o grande ativo que nos levará a um futuro desejável não é só a tecnologia, mas sim a empatia.
Cada vez mais é preciso se colocar na posição do outro e entender que uma cidade não é um processo top-down.
De todas as séries bestas que vi até hoje, a mais simpática entre elas, certamente, é Ted Lasso, algo que jamais eu assistiria se não fosse uma indicação confiável. Diante de tantas teorias sobre o líder do futuro (arghhh) e como aumentar a produtividade (blá blá blá), eis que surge Ted, um técnico de futebol americano contratado para treinar, e afundar, um time de futebol da Premier League inglesa. Em meio à ironia entre costumes americanos e ingleses, nosso protagonista nos lembra, com enormes doses de constrangimento e vergonha alheia, que o importante não é a vitória, e sim, a certeza que juntos enquanto time, e ele enquanto treinador, temos a responsabilidade de tornar os jogadores e toda a comissão técnica, pessoas melhores.
Essa não deveria também ser a responsabilidade das cidades? Se posso perguntar e responder ao mesmo tempo, diria um sonoro SIM.
Quando me perguntam qual o propósito dessa ou daquela cidade, agora que o propósito é o termo da moda, seguido de perto pelo ESG, respondo que, embora cada cidade ou lugar deva ter um propósito específico, o propósito inerente a toda e qualquer cidade, todo e qualquer lugar, é – e corro o risco ao afirmar isso categoricamente –, transformar as pessoas, e claro para melhor. Aliás, esse é o motivo que me torna um apaixonado pelos lugares, não só porque eles encantam, surpreendem, conectam, mas acima de tudo, porque eles transformam, transformam não só os moradores, mas os visitantes, os empreendedores e todos que se relacionam com eles.
A tecnologia a serviço da empatia
Essa transformação se dá pela empatia muito mais do que pela tecnologia, ou melhor, pela tecnologia a serviço da empatia. É preciso entender o outro, e isso só acontece quando ouvimos o outro, criamos com o outro, nos sentimos como o outro. Vivemos tempos paradoxais, isolamento e nacionalismo e ao mesmo tempo conexão global e supraterritorial, mas, ainda assim, nossa capacidade de colaboração continua, ainda que abalada por comportamentos egoístas como vimos ao longo de toda a pandemia disfarçado de “direito” a não fazer isso ou aquilo, de não usar máscara no avião, no metrô, não tomar vacina e todo tipo de absurdos.
Colaboração e empatia andam juntas, só colabora quem consegue ouvir e interagir com o outro. Cidades mais empáticas são cidades que ouvem e interagem com a comunidade, visitantes, enfim, com as pessoas. Nesse momento, voltamos à tecnologia; é ela, atualmente, a grande responsável por essa conexão, embora, como visto no exemplo do metrô paulistano, nem sempre ela venha com empatia embarcada. Começo aqui meu movimento solitário de substituição do termo cidades inteligentes por cidades sensíveis ou cidades empáticas.
Ficando no exemplo de São Paulo, onde o lema é Non Ducor Duco, ou, “Não sou conduzido, conduzo”, me questiono se a cidade deve conduzir ou ser conduzida pelos cidadãos. Desculpe São Paulo, mas acredito que a cidade deva ser conduzida pela comunidade, e talvez seja a hora de repensar o brasão.
Voltando à analogia dos líderes, imagino qual seria o melhor modelo para uma cidade, se uma cidade Elon Musk ou uma cidade Ted Lasso. Enquanto a primeira pode me levar à Marte, a segunda se esforça para me tornar uma pessoa melhor.
Alguém tem dúvida?
Ilustração da capa: Celyn Brazier – Wagon Christ Recepticon LP.