“Como você consegue decorar tanto texto?” Esta frase é das mais ouvidas pelos atores de teatro após os espetáculos — principalmente dita por amigos e parentes, junto com alguns elogios. Como eu sei? Pela minha própria experiência como atriz, e por trabalhos recentes que me colocaram no papel de dramaturga e diretora. A quantidade de palavras pronunciadas de memória sempre impressiona.
Depois de quase 15 anos fora dos palcos (curiosidade? Veja aqui informações sobre minha última peça), hoje dedicada ao universo da aprendizagem, interpreto essa frase muito além de uma tentativa simpática de reconhecimento de um trabalho tão “diferente do normal”. A substância do trabalho dos atores, de composição e entendimento das intenções que guiam as ações em cena, é invisível para a maioria de nós. Invisível não no sentido de que não podemos ver seus detalhes, mas de que efetivamente não compreendemos sua existência.
Cultural e profissionalmente, de forma geral, somos levados a reconhecer como existente o que é visível — ou audível, ou, pior ainda, mensurável. Pouco nos desenvolvemos para perceber que o que vai “por dentro” tem um poder de influência definitivo nos rumos de nossas vidas, inclusive no trabalho. Essa conexão intencional com o mundo interior fica restrita a alguns profissionais. Porém, cada vez mais temos evidências que confirmam o óbvio: a subjetividade faz parte de tudo o que fazemos.
A ciência vem demonstrando que somos menos racionais do que gostaríamos de imaginar. No livro Ruído: uma falha no julgamento humano (Objetiva, 2021), Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sunstein exploram vieses e ruídos que afetam julgamentos supostamente objetivos. Já o neurocientista português António Damásio, no seu livro A estranha ordem das coisas: a origem biológica dos sentimentos e da cultura (Cia das Letras, 2018), reivindica a importância das emoções e dos sentimentos para a história humana. Segundo ele, sentimentos e emoções são “participantes na negociação de ajustes requeridos pelo processo cultural ao longo do tempo” — o que é muito mais importante do que costumamos considerar.
Bom, os livros estão aí para serem lidos, em especial por quem gosta de entender cientificamente fenômenos que desafiam o senso comum, mudando nossa forma de compreender o mundo. Porém, não dependemos de uma compreensão técnico-conceitual completa para colocar esses princípios em prática e colher seus benefícios.
Proponho, em complemento ao entendimento da ciência, a experimentação da cultura. E o melhor: você pode fazer isso em casa! Nossas experiências com o entretenimento e a arte podem ser potentes dispositivos de aprendizagem autodirigida, em especial no que se refere às chamadas soft skills.
A experimentação da cultura para desenvolver habilidades socioemocionais. (Ilustração: Malika Favre)
De forma alguma defendo que precisamos “aprender alguma coisa” em tudo o que fazemos. E muito menos que devamos buscar uma “moral da história” naquilo que assistimos, lemos ou ouvimos. O que sugiro é que, na nossa trajetória de aprendizes ao longo da vida, desenvolvamos a atitude intencional de desenvolvimento humano, e não apenas técnico ou gerencial.
Um lugar pouco explorado para isso, mas que faz parte da nossa rotina, são os momentos de fruição cultural. Podemos começar pelo que temos mais perto. Neste artigo, trago dois exemplos: um com literatura brasileira contemporânea, e outro, com stand-up comedy da Netflix, para falar de empatia. Por definição, a empatia é sempre em relação a outra pessoa. Mas estou convencida de que exercitá-la em relação a personagens amplia nossas possibilidades e nos desperta para situações que atropelamos (ou nos atropelam) no dia a dia.
Sentir com o outro, e não no lugar dele: a empatia emocional
“Você sempre dizia que os negros tinham que lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E, por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de ver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E esses afetos que nos mantêm vivos.”
Esse trecho é do arrebatador O Avesso da Pele, romance de Jeferson Tenório (Cia das Letras, 2020). Tenório nasceu em 1977, no Rio de Janeiro, e atualmente mora em Porto Alegre. No livro, ele conta a história de Pedro que, após a morte do pai, sai em busca de resgatar sua história. (Leia).
O trecho acima é uma conversa de Pedro com seu pai, quando o garoto tinha 9 anos de idade. Faz parte do capítulo 4 do livro, no qual já temos conhecemos os personagens e as grandes linhas da narrativa. Esse trecho iluminou não apenas a leitura do próprio livro, mas também a minha percepção emocional sobre a profundidade do impacto do racismo desde a infância.
Em um exemplo assim fica claro como, “se colocar no lugar do outro”, não é possível e nem desejável. No vídeo O Poder da Empatia, Brené Brown explica que a empatia é conexão, e que para isso é necessário: compreender a perspectiva do outro como verdadeira; diminuir julgamento; reconhecer as emoções do outro e se comunicar com elas.
Portanto, esse caminho até a conexão verdadeira precisa ir além da dimensão factual, mobilizando nossos afetos. Voltando ao Avesso da pele: Tenório me deu a oportunidade de sentir com o Pedro em uma nova dimensão — não no lugar dele. Esta é a empatia emocional. Quando vivida com atenção e por meio do brilhantismo estético, redimensiona outras experiências e desperta nosso olhar para situações da vida real. Percepção que precisa ser complementada pela ação concreta, pois não faz sentido a empatia que se esgota em um sentimento autocentrado.
Amplie sua caixa: empatia cognitiva
“Admito que na última parte do show eu serei mais agradável do que sou no começo. Quase adorável. Devem estar se perguntando por que eu não começo dando o meu melhor e já entro mandando ver? Por que não faço isso? Por que começo meio antipática? Porque este é um show sobre autismo. E pessoas com autismo raramente causam uma boa primeira impressão. E a maioria das pessoas costuma nos dispensar por causa disso. Este é um show que recompensa pessoas que perseveram, que vão além do desconforto para ver o que há além. Para essas pessoas, o show funciona como uma comédia romântica. Teoricamente, pois teorias são sensuais. É isso, este é o show, as expectativas foram estabelecidas. Então o show começa agora.”
(Hannah Gadsby: Douglas. Netflix, 2020. Assista aqui o trailer.)
Por trás das lentes, compreendendo a experiência dos outros. (Ilustração: Malika Favre)
Estamos no minuto 14 do show de stand-up comedy Douglas, e Hannah Gadsby já foi contra as regras básicas que conhecemos de um roteiro: anunciou tudo o que vai falar, antes de falar propriamente. Ela passa o roteiro do que acontecerá na próxima hora, em detalhes, dizendo inclusive como o público irá se sentir. Com a justificativa de ajustar as expectativas do público, a comediante cria uma camada de compreensão a mais, revelando como funciona o seu pensamento criativo. Se em Nanette Gadsby traz de seus traumas, aqui ela genialmente nos apresenta como pensa e cria.
Assim como o trecho do Avesso da Pele iluminou o livro e além, essa introdução de Douglas ilumina o show atual e o anterior. E, se você tiver intenção e atenção, diversas outras situações de sua vida e trabalho.
A empatia cognitiva é a habilidade de compreender a experiência dos outros e como eles aprendem, resolvem problemas e criam. Ao criar essa meta camada narrativa na abertura de Douglas, Gadsby encontra uma solução estética brilhante para ampliar ainda mais a potência do seu segundo show. Como espectadores, acompanhamos sua performance aproveitando as piadas — e, ao mesmo tempo, admirados com o quanto quem ela revelou ser no começo se reflete em cada uma das escolhas realizadas na composição do todo. É um convite escancarado à empatia cognitiva.
E o que isso tem a ver com a minha aprendizagem e o meu trabalho?
Em primeiro lugar, precisamos ativamente desenvolver a nossa sensibilidade para a convivência. O pilar aprender a conviver do lifelong learning é um imperativo ético para construirmos um futuro mais justo. Não precisamos de nenhuma justificativa transacional para isso.
Em segundo lugar, o desenvolvimento da empatia emocional é essencial a esse momento de transição do mundo do trabalho. Como escreve o Maurício Medeiros, no artigo Precisamos falar sobre aceleração emocional (O Futuro das coisas, set. 2021), “há muito tempo o mundo não se via em uma situação de vulnerabilidade simultânea”.
Esse período pandêmico escancarou um fato perante o qual estávamos em negação há algumas décadas: não é possível deixar as emoções em casa para ir trabalhar. E não é porque agora trabalhamos em casa, mas sim porque não é possível “desligar” uma emoção ou um sentimento. E se nos sentimos forçados a aparentar positividade, entramos em um fenômeno conhecido como “atuação superficial”.
No artigo Suas emoções negativas estão ferindo sua equipe. Tente empatia no lugar (tradução livre para Your negative emotions are hurting your team. Try empathy instead, Fast Company, maio 2021), Jamil Zacki e Cydney Roach nos contam que suprimir emoções “prejudica a saúde mental e diminui nossa capacidade de pensar com clareza”. Em um estudo citado no artigo, fica comprovado que suprimir emoções tem o mesmo efeito negativo na nossa performance do que realizar várias atividades ao mesmo tempo (multitasking).
A supressão das emoções também afeta o grupo, distanciando as pessoas e prejudicando os relacionamentos. O artigo de Zacki e Roach cita um estudo realizado no Japão, em que foram observados 227 grupos de trabalho. Os líderes que desencorajavam a expressão emocional tinham maior probabilidade de esgotar suas equipes, o que, por sua vez, piorava seu desempenho.
Já a empatia cognitiva é essencial para que o potencial de colaboração e inovação que sabemos existir em times diversos se realize. Quando os membros de uma equipe conhecem as experiências e perspectivas uns dos outros, podem se alinhar mais rapidamente e coordenar atribuições com mais eficácia. Além disso, se adaptam com menos dificuldade a novos contextos e desafios.
Outro benefício da empatia cognitiva é a possibilidade de enxergar a pessoa por seus potenciais futuros e não pela experiência passada. O que pode ser valioso na formação de equipes, mobilidade interna e processos seletivos.
Tanto a empatia emocional quanto a cognitiva expandem em muito a nossa capacidade de influência, em um mundo em que cada vez mais precisamos liderar sem o peso do “crachá”. E, surpresa: ambas podem ser positivas! Nós nos acostumamos a pensar na empatia em relação a sentimentos difíceis, mas também podemos praticá-la quando alguém está criando ou se expondo de forma entusiasmada. Dessa perspectiva positiva, a empatia pode ser um grande impulsionador da colaboração e da aprendizagem social. Já pensou nisso?
O convite
Para desenvolver empatia emocional e cognitiva de maneira autodirigida, experimente olhar as obras de ficção com a intensão de compreender profundamente personagens e contextos. Provoque-se a ir além da primeira camada do enredo, além do “gostei / não gostei”. Tente entrar em contato verdadeiro com o universo complexo que está sendo apresentado.
Segundo Antonin Artaud, importante nome da arte teatral do Século XX, o teatro é muito mais do que o texto ou as tendências psicológicas dos personagens:
“É uma linguagem que desenvolve todas as suas consequências físicas e poéticas em todos os planos da consciência e em todos os sentidos, leva necessariamente o pensamento a assumir atitudes profundas que são o que poderíamos chamar de metafísica em atividade.” (O teatro e seu duplo, Editora Martins Fontes, 1999, p.44)
Se tivermos o olhar do aprendiz intencional, a experiência de fruição cultural pode nos trazer inúmeros aprendizados. Não apenas sobre o conteúdo, mas a própria constituição de linguagem nos leva a pensar de uma forma que não pensamos no cotidiano.
É fundamental saber que os estudos científicos mais atuais vêm comprovando que simplesmente tentar se colocar no lugar do outro não funciona. Testes anteriores, que diziam que tomar a perspectiva de alguém levaria à melhor compreensão interpessoal, vêm sendo questionados pela ciência. Essa atitude por si só não aumenta a precisão da interpretação de posturas e expressões em relação às emoções, nem mesmo prevê comportamentos. Porém, intencionalmente ampliar nossa perspectiva sobre o outro, por meio de conversas interessadas, expande a nossa compreensão. (Veja aqui).
Ganhar perspectiva, e não simplesmente supor a perspectiva com base nas informações que já temos. Olhar o mundo fazendo perguntas que sejam pontes entre o conhecido e o diferente. O contato com a arte e com a cultura amplia a nossa capacidade de perguntar e alimentam nossa curiosidade e interesse.
Reconhecer a própria perspectiva e vieses é também essencial. Sempre olhamos a realidade do lugar em que estamos. Por isso, parece-me muito mais possível e desejável cuidar bem da nossa “caixa”, enriquecê-la, questioná-la, ampliar sua superfície de contato com o mundo exterior. Seja a tal caixa uma imagem para consciência, modelos mentais, padrões de pensamento — expandi-la é um melhor caminho do que abandoná-la.
E quando dizemos “pense fora da caixa”, parece que é meramente uma questão atitudinal, voluntarista, quando sabemos que não é bem assim. São necessárias oportunidades e intencionalidade para traçar este caminho. Quanto às oportunidades, o mundo da cultura apresenta inúmeras — espero que este texto tenha inspirado a aproveitá-las com intenção no seu caminho de aprendiz autodirigido.
Epílogo: pense como uma atriz
Em Pense como um Artista (Zahar, 2015), Will Gompertz referencia o trabalho do artista inglês Bob and Roberta Smith ao dedicar todo um capítulo ao tema “Todas as escolas deveriam ser escolas de arte”. Nas escolas de arte, os fatos, os conteúdos, as técnicas não são a finalidade do aprendizado. São ponto de partida, não de chegada. O que cada um fará com as informações é o que importa. O como pensar, não o que pensar.
Quando me dizem que ter sido atriz deve ser muito útil no meu trabalho atual, respondo que sim. Não porque me tornou mais desinibida, ou porque posso “fingir melhor”. Mas porque me ensinou a ter um outro tipo de atenção ao que é sutil, ao não dito, ao que move as pessoas. E à profundidade de sentido que podemos atingir com nosso trabalho.
Não sei se fazer uma escola de arte é necessário, mas não tenho dúvidas de que colocar mais cultura na nossa vida é indispensável para nos desenvolvermos como seres humanos. Único caminho verdadeiro para aprimorarmos nossas soft skills.
Estudar teatro é um constante exercício de expansão da própria “caixa”. Podemos emprestar das atrizes o modo de questionar o mundo:
Em vez de perguntar: o que eu faria no lugar da Julieta?
Ou: como imitar a Julieta?
Perguntar primeiramente: como a Julieta existe em mim?
E depois: como eu poderia fazê-la existir no mundo?
Ilustração da capa: Malika Favre
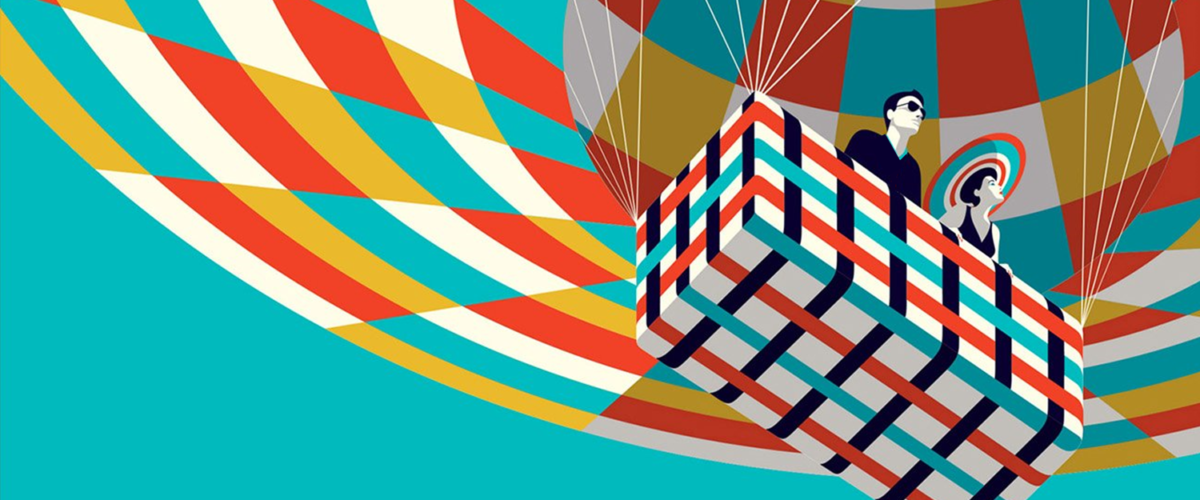





Perfeito!! Baita texto!
Genial! Obrigada
Uauu…ainda processando aqui =)
Eu quero morar nesse texto!
É impossível ler Clara Cecchini e não ter vontade aprender! De reaprender a aprender! Ou de sair contagiando as pessoas para a fruição do mundo em que vivem com o corpo e a alma dedicados. Artigo fenomenal! Como sempre!
Uau… mexida com estes conceitos.
Ótimo texto, me fez refletir melhor sobre o significado de empatia e também como construir melhores pontes entre o que eu julgo e o que realmente são as experiências das outras pessoas.