Quando a economia brasileira dá algum sinal de melhora, como o dólar mais baixo, por exemplo, automaticamente começamos a ouvir o termo commodity, nosso “eterno” tesouro, que segundo o dicionário Oxford é “qualquer bem em estado bruto, ger. de origem agropecuária ou de extração mineral ou vegetal, produzido em larga escala mundial e com características físicas homogêneas, seja qual for a sua origem, ger. destinado ao comércio externo”. Fora do agronegócio esse termo é usado para definir algo que não possui nenhum tipo de diferenciação, algo genérico, cuja qualidade independe de marca ou origem.
No Marketing, durante décadas, procuramos vender algo baseado em seus atributos funcionais e de performance: o sabão que limpa mais branco, o adoçante com menos gosto de corrimão de escadaria de rodoviária, menos gordura aqui, menos sódio acolá. Isso fazia algum sentido num mundo onde a tecnologia ainda não era compartilhada, onde não se tinha acesso a informações de forma mais ou menos igualitária pelos players do mercado. Já na década de 1950 identificamos que nossas compras não se davam de forma racional, pois até então, a ideia ao redor das marcas era simplesmente agilizar o processo de compra diminuindo o tempo gasto para escolher determinado produto. Mesmo sabendo disso, ainda continuamos por anos nessa corrente funcional.
Com maior relevância, desde o começo desse milênio, o branding – ou o pensamento voltado para a gestão estratégica de marca – ganha espaço, entendendo que, mais do que a racionalidade, nossa relação se dá com marcas muito mais do que com produtos. E ainda, mais recentemente, entendemos que não só não compramos marcas como na verdade, muitas vezes, o verbo comprar não se aplica. Aderimos a uma ideia representada por determinada marca e nos relacionamos em função da identificação entre nossa própria identidade e a identidade das marcas disponíveis. Passamos de compradores a cocriadores, em vez de alvos, pessoas, membros de uma comunidade.
Validando a própria identidade
Há quem diga que nos relacionamos com as marcas que validam nossa identidade e nossa personalidade, algo facilmente comprovado ao pensarmos em estereótipos como o carro do tigrão, a bolsa da perua, o tênis do descolado e como esses outros milhares de exemplos nos mais diferentes segmentos do consumo. Será que o mesmo se dá com os lugares?
A resposta simples é um sonoro SIM. Escolhemos onde morar e onde passar as férias, por exemplo, com base naquilo que somos e talvez naquilo que queremos ser na visão do outro. Essa segunda opção tem prazo de validade. Ninguém, ou pelo menos a maioria das pessoas, não está disposta a sacrificar a própria felicidade e identidade em troca de uma percepção positiva da sociedade (menos no Instagram, pois ali vale tudo).
O infindável período pandêmico nos fez repensar e ressignificar uma boa parte de nossas vidas e uma das perspectivas que tiveram especial atenção foi a nossa relação com esses lugares ao nosso redor.
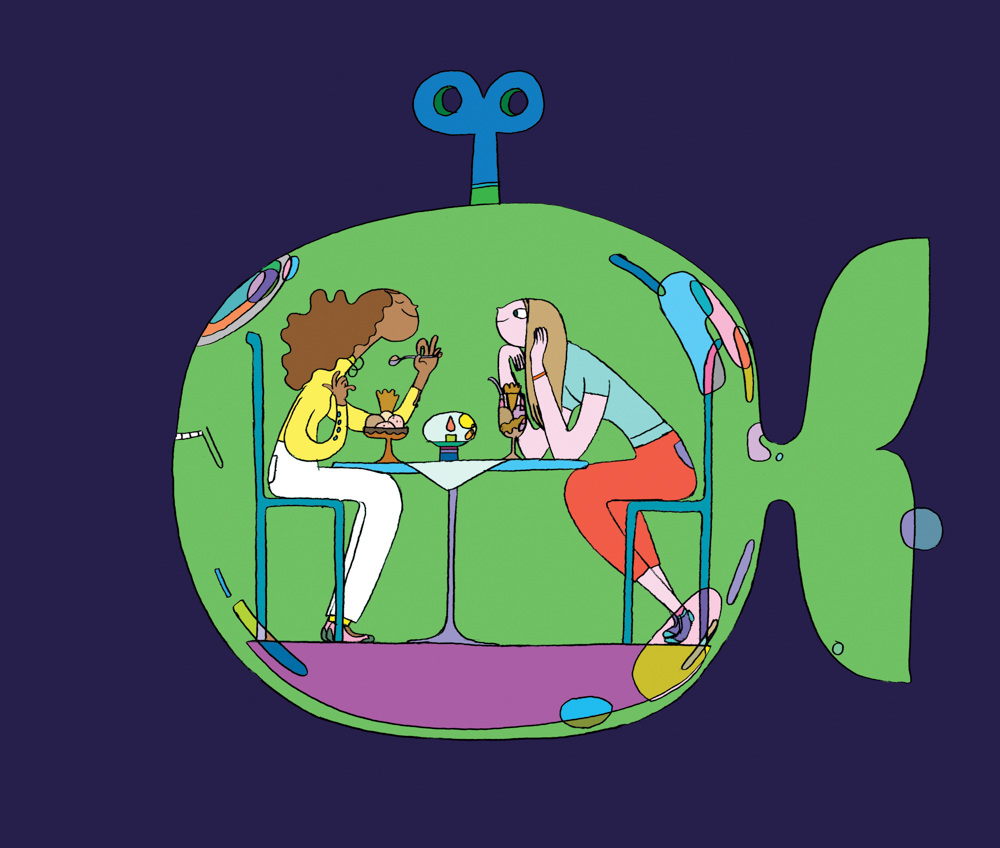
Ilustração: Celyn Brazier
A casa-mundo e o retorno à bolha
Se antes a ideia de lugar se aplicava a cidade ou bairro onde vivíamos, hoje ela certamente se estendeu ou se transferiu para dentro das nossas moradias. Nosso maior período de clausura nos fez questionar uma série de escolhas, internalizamos academia de ginástica, sala de cinema, restaurante, escritório e até a natureza. O termo biofilia, que trata da relação homem/ natureza nunca foi tão presente e ainda que seja um conceito dos anos 1980 parece ter sido cunhado em meados de 2020.
O mercado imobiliário se alvoroçou. Nada era longe demais, desconectado demais, isolado demais. De uma hora pra outra parou de existir “área ruim” e o famigerado “location, location, location” mantra maldito do segmento (pelo menos da forma como era visto/ abordado) foi pelos ares. Quem estava em centros outrora vibrantes cogitou trancar-se em um condomínio-bolha nos cafundós, quem pôde fugiu para as montanhas, para a praia, ainda que tudo não passasse de paisagem.
Se o mundo se voltou para dentro das moradias, qual o futuro das cidades?
Embora fenômenos já explicados nesse mesmo espaço como a desterritorialização e a desmaterialização tenham sido acelerados pelo isolamento, não podemos dizer que ouve uma desidentificação, ou seja, continuamos sendo, mais ou menos, as mesmas pessoas que éramos quando toda essa loucura começou; nossos valores, caráter e personalidade, deveriam se manter os mesmos ainda que nosso comportamento tenha mudado.
Como vimos há pouco, nos relacionamos cada vez mais com ideias ao invés de produtos ou marcas. Um lugar, cidade, bairro é, essencialmente uma ideia ou um conjunto de ideias. Sempre é bom lembrar que a diferença entre espaço e lugar, sob a perspectiva da geografia humana é que um lugar é um espaço dotado de significado pelas pessoas, logo, um lugar é feito por pessoas e, no fim das contas, para pessoas, uma vez que é o conjunto dessas pessoas que confere identidade ao lugar. Quanto maior for a eficiência dos lugares em comunicar esse seu significado, essa identidade, maiores as chances das pessoas que se identifiquem com ele possam fazer parte dessa comunidade, presencial ou virtualmente. Sim, um lugar é muito mais do que seu território físico – chamo essa ideia de supraterritorialidade.
A cidade-lugar e a cidade-commodity
Todas essas mudanças citadas apontam para a necessidade urgente de repensarmos os lugares. As dificuldades impostas pela pandemia nos fizeram questionar nosso próprio percurso pela cidade. A aceitação de novos comportamentos, como por exemplo, as reuniões virtuais e a popularização de compras cada vez mais cotidianas pela internet nos permitem – ou permitem aqueles que podem – uma relação mais limitada com a cidade. Se antes eu precisava sair de casa para quase tudo, agora, esse quase tudo chega até mim, de forma eficiente e muitas vezes gratuita. Se a cidade não é mais um lugar estritamente funcional, qual será sua nova função primordial?
Minha hipótese é o prazer.
Mas essa reflexão não é só uma relação entre funcionalidade x prazer endereçada à gestão municipal, que agora, além de precisar pensar as características de identidade de suas cidades, precisam propor experiências positivas e preparar seus espaços públicos para esse novo momento.
É também uma questão essencial aos empreendedores e comerciantes. Depois de mais de um ano preso no vai e vem do isolamento social, ao sair na rua, ainda desconfiado, com máscara e litros de álcool gel e andar por um centro brasileiro qualquer, eu pergunto: Quantas dessas lojas me fariam sair de casa novamente? A comoditização já era uma realidade nos produtos, cada vez mais semelhantes, agora os serviços também se tornaram, pelo menos aos desavisados, genéricos, incapazes de criar uma experiência diferente ou melhor do que a compra virtual.
É preciso atenção a esse novo momento tão delicado. Não se trata mais de abrir ou fechar, se trata também do que se é capaz de oferecer e se essa oferta é capaz de ser percebida como valor.
A mesma reflexão serve as cidades: o que faria alguém sair de sua cidade para ir até outra? Provavelmente teremos cidades-lugar, com identidades bem definidas capazes de criar experiências positivas e com isso atrair turistas, moradores, talentos, e teremos as cidades-commodities, onde no máximo resolveremos aqueles problemas que, por não sermos a Estônia, ainda precisamos de órgãos públicos e da burocracia em geral, saindo de nossas bolhas fora da área urbana, dentro de nossos carros com ar-condicionado e não vendo a hora de voltar para o paraíso, ou pior ainda, viveremos em meio a elas por pura falta de opção.
Talvez, e espero estar profundamente errado, as ruas comerciais não voltem a ser as mesmas, cheias de gente, vibrantes, universos a serem descobertos. Talvez esse distanciamento tenha começado por conta de um vírus e, no final, continue por pura falta de interesse.
E você, o que quer para sua cidade?




[…] e receber, em casa, de pijama no dia seguinte. Num primeiro momento isso parece o mundo ideal. Escrevi aqui, nesse mesmo portal, sobre a dificuldade de comerciantes e marcas em lidar com esse novo momento, seja pela dificuldade […]
[…] Extraído do Site: O Futuro das Coisas.Foto de Capa: Celyn […]
[…] e receber, em casa, de pijama no dia seguinte. Num primeiro momento isso parece o mundo ideal. Escrevi aqui, nesse mesmo portal, sobre a dificuldade de comerciantes e marcas em lidar com esse novo momento, seja pela dificuldade […]